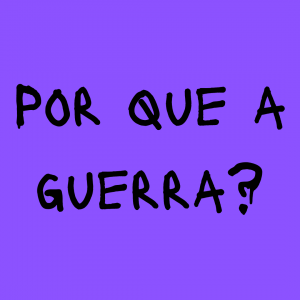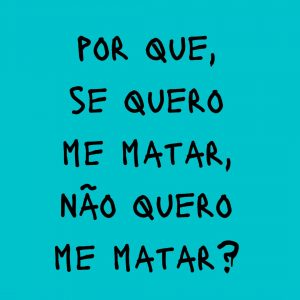Em “racismo e sexismo na cultura brasileira”, Lélia Gonzales dá uma rasteira no mito da democracia racial ao colocar no divã uma adolescente neurótica com sintomas graves de racismo. Tal mocinha se chama Cultura Brasileira, a qual aqui carinhosamente apelidarei de Cu para buscar sintetizar, na medida do impossível, o genial artigo de Lélia em uma anedota clínica:
Cu adora viajar pras Europa, citar versinho em francês (sem traduzir), ler Caio Prado Junior, é neta e herdeira de escravocratas e só se senta em mesa de gente branca, mas, como durante o Carnaval bota seu bloco na rua, curte samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé e umbanda, afirma com convicção: “vivo numa democracia racial”.
Durante a infância, Cu foi criada por uma mãe preta, que a amamentava, dava banho, limpava cocô, punha pra dormir, acordava de noite pra cuidar, ensinava a falar e contava histórias (como as de Macunaíma, Zumbi, Ganga Zumba…), exercendo a função materna de fato. Quando a criança finalmente caía no sono, a mãe preta exercia ainda outras funções enquanto “mulher-mucama” com o pai de Cu, de modo que a legítima esposa branca era, na verdade, “a outra”.
Mas se a mãe pra valer (a que cuida) de Cu era a preta e não a branca, a função paterna pra valer – função simbólica de ausentificação – quem exerceu pra valer mesmo também não foi o pai branco, e sim heróis de nossa gente como o “preto retinto e filho do medo da noite” Macunaíma, nomeado em pretuguês pela mãe preta. Lélia destaca em seus relatos clínicos: “ninguém melhor do que um herói para exercer a função paterna”. Macunaíma, vale lembrar, é um preto que embranquece, sendo também uma metáfora da neurose de que tratamos aqui.
O inconsciente de Cu é, portanto, repleto de amefricanidade, e não por acaso a adolescente tem uma certa tara, manifesta especialmente no Carnaval, por “bunda”: termo proveniente do quimbundo, que, por sua vez, provém de um tronco linguístico banto que “casualmente” se chama bunda. “De repente bunda é língua, é linguagem, é sentido e é coisa. De repente é desbundante perceber que o discurso da consciência, o discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro, e de ascendência europeia… E dizem que significante não marca…marca bobeira quem pensa assim.”, afirma a psicanalista.
Mas, afinal, por que Cu se deita no divã de Lélia? Talvez porque, como toda sujeita da psicanálise, a Cultura Brasileira seja também dividida. Se, por um lado, esbanja pretuguês em seus atos falhos, sonhos, lapsos e linguagens, conhecendo sem saber que a batalha discursiva no Brasil foi ganha pela negritude; por outro, a culpabilidade por tais desejos recalcados em função das normas coloniais vigentes se exerce com fortes cargas de agressividade, manifestas em direção à mulher preta em seu cotidiano naturalizado em posições subalternas como a de “empregada doméstica”. Tal conflito culmina, como diz Lélia, nesse “orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial.” Só que quando vem à tona que o rei tá pelado, o corpo do rei é preto, e o rei é escravo, cai de pau em cima. Contraditório, né? Racismo e sexismo se constituem, assim como a sintomática que caracteriza a neurose de Cu, essa adolescente tardia.
Que Cu siga adiante no divã de Lélia e de outras psicanalistas de senso clínico tão refinado, e consiga lidar com seus sintomas de formas menos alienadas.