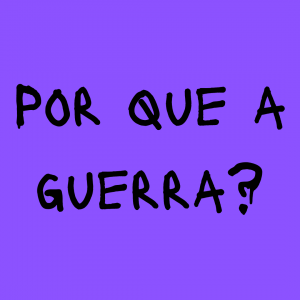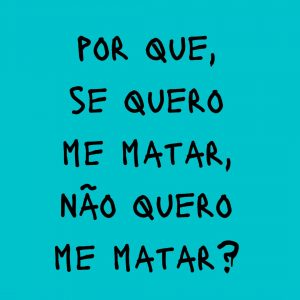Marília Calderón
Introdução
Inicio este ensaio agradecendo o compositor Ricardo Rabelo, que inspirou a presente investigação: “a arte faz parte da revolução?”. Tal frase, como afirmação e não como pergunta, está presente em sua canção ainda a ser lançada Parte da revolução, a qual tive a alegria de escutar ao vivo no ano de 2019 por ocasião da participação do músico em meu álbum A saudade é um vagão vazio (2020), no qual gravou cavacos em um samba que fizemos em parceria também com Dito Silva (Saudade que não quer cessar).
Tanto Parte da revolução quanto Primavera Fascista -o samba que inspira minha pergunta e o rap que analiso na busca por respondê-la, respectivamente – são canções compostas, produzidas e performadas por pessoas em sua maioria lidas como homens, negros e periféricos. Sou geralmente lida como mulher (ainda que atualmente sinta mais afinidade com a identidade de gênero “não binária”), branca e tenho origem na classe média (ainda que tenha vivido como artista de rua por muitos anos e atualmente resida em área periférica com baixa renda). Tais diferenças me fizeram diversas vezes questionar se não seria melhor escolher outras canções para a análise, mais próximas de meu “lugar de fala” – conceito que caiu na boca do povo como nossas canções mais populares. Djamila Ribeiro, autora do livro Lugar de fala (2019), já apontou diversas vezes a diferença entre esse conceito e o que talvez possamos chamar de “interdito de fala”, mas o uso que se faz do termo tem gerado “muitas confusões”, como disse a filósofa para uma entrevista:
O lugar de fala, infelizmente, tem muitas confusões, sobretudo nas redes sociais. As pessoas entendem às vezes o lugar de fala como interdito, ou como desculpa para não agir, ‘não é o meu lugar de fala, então eu não vou agir’, quando todo mundo tem lugar de fala. A gente está falando de locus social (RIBEIRO, 2020).
Muito refleti sobre quais seriam as consequências de pessoas brancas passarem eventualmente a debater ideias e obras somente de pessoas também brancas ou do mesmo locus social, para não correrem o risco de, ao errar, serem acusadas de racismo, apropriação cultural, etc. Penso que há caminhos menos covardes e mais interessantes para nós, pessoas brancas, nos comprometermos com a luta antirracista, como aprendermos com as críticas que nos são direcionadas ao invés de evitá-las deixando de nos posicionar, e creio que, mais importante ainda do que nosso “lugar de fala”, talvez seja nosso “lugar de práxis”: espaço de articulação dialética entre teorias e práticas vigentes em nossa vida, para além da identidade. Minha decisão de manter em escuta e análise tais canções, apesar do risco de cometer equívocos a partir de meus privilégios como pessoa branca, vem sobretudo de duas constatações: primeiro, a de que o racismo é uma das maiores violências estruturais de nossa sociedade e disso deriva a importância de não evitar conflitos que possam surgir a partir de sua discussão, pois acima de tudo urge fazê-la; segundo, a percepção de que o combate ao racismo e outras violências estruturais da sociedade brasileira implica a composição de um horizonte político comum que, ao que tudo indica, só poderá ser construído a partir da articulação entre diferentes lutas e, consequentemente, diferentes identidades – como argumenta muito bem, a partir de uma interlocução entre o marxismo e a psicanálise, a cientista política Jodi Dean no livro Camarada (2021). Vou com o bloco que afirma: se queremos criar o comum, precisamos enfrentar as tensões entre nossas diferenças. Pode nos orientar, talvez, a estrutura composicional do rap Primavera Fascista, como será desenvolvido no decorrer deste ensaio.
Com o uso da primeira pessoa do plural, refiro-me a “nós” que desejamos a ruptura com as estruturas sociais da sociedade capitalista racial patriarcal. Se você não compõe este “nós”, seja bem vinde do mesmo modo, pois, como nos ensina a dialética, nossa “identidade”, como tudo o que existe, está em ininterrupta transformação e o que não é ainda pode vir a ser daqui a pouco (ou muito). Como uma sociedade em que diferenças de gênero, classe e cor não estruturem desigualdades. No intuito de colaborar com transformações nesse sentido, buscarei utilizar no presente ensaio a chamada linguagem neutra (PT-BR)[2], pois considero as transformações nessa seara relevantes e a resistência às mudanças linguísticas que acompanham questionamentos em relação a privilégios sociais como parte de uma atitude conservadora contrária à práxis dialética com a qual busco me afinar. Vale ressaltar que a linguagem neutra não estava presente nes autories citades neste ensaio, e peço a elus e aes leitories uma licença poética para tal adaptação, a qual apenas não será feita nas citações literais. Ao contrário da língua portuguesa hegemônica (BR) que, por exemplo, refere-se à humanidade com a palavra “homem”, excluindo diversas outras identidades de gênero de tal categoria humana, a linguagem neutra busca incluir a todes o máximo possível, pelo o que considero não haver razão para que ninguém se ofenda. Aprendemos com a psicanálise e sua herança sofística que, se a realidade produz linguagem, a linguagem também cria, com seu poder demiúrgico, a realidade:
De fato, é possível demonstrar em seu pensamento (de Freud) não somente a presença da literatura e da imaginação especulativa como um guia intuitivo para posteriores verificações rigorosas, como também a presença de um elemento ainda mais radical do que as fantasias literárias, a saber, a presença de uma herança incontestavelmente sofística, aquela de um poder demiúrgico das palavras e suas complexas relações entre o Ser e o Logos. Comecemos o resgate de uma potência demiúrgica na palavra psicanalítica a partir da clínica de Freud (JUNIOR, Nelson da Silva, 2019: 308-309).
As transformações na linguagem, portanto, ainda que jamais alcancem uma neutralidade propriamente dita e tampouco qualquer suficiência para dar conta do Real, colaboram para as transformações não apenas simbólicas, mas também materiais da realidade e suas violências, de gênero, de classe e de raça, entre outras.
Em Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana (2014), a psicóloga social Lia Vainer aponta como o racismo e a ideia falaciosa de “raça” construída no século XIX atravessa, ainda hoje, os modos de subjetivação de sujeitos brancos. Ao realizar uma pesquisa cujo foco incidirá sobre pessoas em sua maioria negras, considero imprescindível reconhecer que a racialização também atravessa a mim e à minha pesquisa. O fato desta se dar em uma pós-graduação já aponta um vínculo estreito entre o presente ensaio e certo identitarismo branco, já que, por exemplo, não tivemos no corpo docente das disciplinas uma sequer pessoa não branca durante todo o curso, o que infelizmente é comum em instituições de nível superior no Brasil e revela alguns dos graves limites de nosso ensino. Tal “apartheid” social, como é evidente mas vale lembrar, não se dá por qualquer limitação ou desinteresse intelectual por parte de pessoas não brancas, mas sim por consequência de um longo processo de colonização no país, no qual pessoas negras e indígenas foram escravizadas por quase 400 anos e seguem sofrendo os efeitos brutais do racismo colonial, mesmo após a “abolição da escravatura”, que não propôs reparação histórica para os crimes hediondos cometidos pelos processos coloniais, ainda em marcha.
Fanon, em Pele negra, máscaras brancas (2008), alerta-nos para a referência de “universal” na qual o homem branco posiciona-se na sociedade ocidental mediada por relações capitalistas, e aponta a necessidade de se tomar a proposta de universalidade em sua radicalidade, recusando um universalismo abstrato e afirmando um humano universal que considere as particularidades. “O branco incita-se a assumir a condição de ser humano” (FANON, 2008, p. 27).
Para pôr um termo a esta situação neurótica, na qual sou obrigado a escolher uma solução insana, conflitante, alimentada por fantasmagorias, antagônica, desumana, enfim, – só tenho uma solução: passar por cima deste drama absurdo que os outros montaram ao redor de mim, afastar estes dois termos que são igualmente inaceitáveis e, através de uma particularidade humana, tender ao universal (FANON, 2008, p.166).
Como aponta a psicanalista Priscilla Santos, no livro Colonialismo e os efeitos do sofrimento sociopolítico: aquilombamento como estratégia de organização (2020), em busca de pensar esta questão em nossa sociedade, urge compreender o papel da população negra na formação social brasileira. A autora aponta, dentre os mais bem sucedidos projetos de construção da identidade brasileira, a obra do sociólogo Gilberto Freyre que, diretamente patrocinado pelo império, contribuiu, com seu “clássico” livro Casa Grande e Senzala (1933), para a consolidação do ideal de que o Brasil gozaria de uma “democracia racial” (SANTOS, 2020: 52). Esta falácia, ainda muito presente em nossa sociedade, permite a manutenção de uma lógica colonial de exploração e violência que se perpetua até os dias atuais.
Clóvis Moura, em Rebeliões da senzala (1959), por sua vez, contribuiu para a desmistificação da “passividade” do povo negro, apontando suas estratégias de luta por liberdade. Durante o sistema escravista, pessoas escravizadas estiveram presentes em quase todos os conflitos armados durante o império, sempre em busca de liberdade, organizando fugas e construindo quilombos para viverem em comunidade, tendo sua própria organização política e econômica. Para criar as condições de sua fuga, quilombolas se utilizavam da violência contra a violência de escravocratas e, por meio do aquilombamento, subvertiam o sistema a que estavam submetidos. O termo “aquilombamento” é uma proposta de Clóvis Moura para nomeação da organização da população negra – e não negra – na luta contra o sistema e o racismo, pois o intelectual constatou, contrariamente à historiografia hegemônica, que os quilombos foram imprescindíveis para a desorganização do sistema escravagista e a abolição da escravatura. “O quilombo é palavra e prática de resistência e a junção da teoria e prática transformadora da realidade” (SANTOS, 2020: 58).
Minha hipótese neste ensaio é a de que o rap Primavera Fascista se inscreve no processo que chamarei de dialética da camaradagem, cuja configuração pode apontar uma orientação ética para nossas subjetividades e relações políticas. Sua estrutura assemelha-se à do aquilombamento – em que o horizonte político comum está à frente das diferentes identidades, sem que estas deixem de ser reconhecidas – mas acrescenta-lhe certa herança marxista na busca por rupturas nas violências estruturais da sociedade brasileira. Tal dialética evoca um histórico, contraditório e transformador processo de lutas e resistências à dominação exercida sobre pessoas marcadas pela lógica colonial como duplamente (material e simbolicamente) matáveis: pessoas negras, indígenas, quilombolas, trabalhadories, esquerdistas, mulheres e gêneros dissidentes, pessoas LGBTQIA+, pessoas pobres, entre tantas outras.
No primeiro tópico,Brevíssima história da dialética, apresento um pouco da história do pensamento dialético o qual orienta minha pesquisa; no segundo tópico,Uma crítica estética dialética no Brasil, contextualizo a tradição específica de tal linha de pensamento com a qual dialogo no presente artigo; no terceiro tópico, A dialética na canção: uma análise de Primavera Fascista, analiso o rap Primavera Fascista buscando orientar-me por tal tradição da crítica literária e aqui cancional; e, por fim, nas considerações finais, concluo o ensaio buscando reverberar a resposta já soprada em versos por Ricardo Rabelo: “A arte faz parte da revolução”.
Antes de iniciar esta pequena jornada, cabe ainda um comentário sobre minha escolha do uso intercalado, no presente ensaio, da primeira, segunda e terceira pessoas (eu, tu, ele, ela e elu também), do singular ou plural. Diz respeito à percepção de articulações transidentitárias e dialéticas entre coletividade e subjetividade, sociedade e sujeito. Nenhum trabalho é inteiramente solo, e tampouco inteiramente coletivo. Se houve investimento subjetivo de minha parte na escrita deste ensaio, não foi menor a ressonância de diversas vozes em sua produção. Como canta Gilberto Gil, “toda pessoa soa” (GIL, 2006: O som da pessoa).
Estiveram presentes durante a escrevivência destas páginas, por exemplo, professories e colegas da turma de pós-graduação em Canção Popular da FASM; o pesquisador e compositor de canções Marcelo Segreto, orientador deste ensaio; o psicanalista, filósofo e compositor Vladimir Safatle, orientador do grupo de estudos Estilhaço, do qual participo, e também da continuidade dessa pesquisa no mestrado em Psicologia Social (USP), no qual acabo de ingressar; o espaço de estudos Canção no Divã, que coordeno junto ao Projeto Pluralidades; a Clínica Pluralidades, na qual atendo mulheres e pessoas LGBTQIA+; o Coletivo Margens Clínicas no qual faço uma formação em Rede Para Escutas Marginais; o Cartel Canção e Psicanálise, que integro no Fórum do Campo Lacaniano; o Mutabis, espaço de estudos de psicanálises do qual participo; Christian Dunker, psicanalista que tem a paciência de escutar meus sonhos e pesadelos repetitivos; a camarada Flávia Cerruti, com quem troco muitas reflexões e projetos dialéticos; Rafé, o melhor companheiro, que acompanha; entre tantas outras pessoas que soam. Agradeço a todes que compõem este ensaio. Acima de tudo, ao Coletivo Setor Proibido, cujo rap Primavera Fascista me atravessou violentamente, causando a presente escrita.
1 – Brevíssima história da dialética
De acordo com o livro O que é dialética (2017), de Leandro Konder, Aristóteles considerou como fundador da dialética Zênon de Eleia, enquanto outros[3] consideraram Sócrates. Na Grécia Antiga, o termo dialética denominava a arte do diálogo, passando posteriormente a designar a arte na qual, durante o diálogo, uma tese é demonstrada por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir os conceitos envolvidos na discussão. Já em uma acepção moderna, dialética significa um modo de pensarmos as contradições da realidade, compreendida como essencialmente contraditória e em permanente transformação.
Na acepção moderna, o dialético mais radical da Grécia Antiga foi Heráclito, pensador que apontou a constante mudança de tudo o que existe e o conflito como o rei de todas as coisas. É dele a famosa asserção: uma pessoa não toma banho duas vezes no mesmo rio, pois da segunda vez já não será a mesma pessoa e nem estará se banhando no mesmo rio (ambos terão mudado). Os gregos consideraram muito perturbadora a negação de qualquer estabilidade no ser e preferiram os ensinamentos de um outro pensador da mesma época, Parmênides, para quem a essência profunda do ser era imutável e a mudança era apenas superficial. Esta linha de pensamento – que podemos chamar de metafísica – acabou prevalecendo.
De maneira geral, a concepção filosófica metafísica preponderou ao longo da história ocidental por corresponder, nas sociedades divididas em classes, aos interesses das classes dominantes, preocupadas em conservar a ordem estabelecida e promover conceitos que não incentivam a mudança do regime social vigente. A concepção dialética foi, assim, reprimida historicamente, mas encontrou espaço no pensamento de diversos filósofos, como Aristóteles, Copérnico, Galileu e Descartes, muitas vezes perseguidos e punidos por suas ideias contrárias à teologia.
Com o Renascimento, a dialética conquistou um lugar ao sol, não mais precisando submeter-se ao subterrâneo no qual se refugiara ao longo de tantos séculos, e emergindo à luz no pensamento de filósofos como Montaigne, Spinoza, Hobbes, Diderot, e Rousseau – os dois últimos já durante o Iluminismo.
Na passagem do século XVIII para o XIX, os conflitos políticos tomaram as ruas, não mais se confinando aos corredores dos palácios. As lutas que desencadearam a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas incitaram o povo a pensar sobre questões políticas que antes eram discutidas apenas por uma elite reduzida. Tal situação se refletiu na filosofia daquele que é considerado por muitos como o maior pensador moderno: Kant. O filósofo apontou para a ingenuidade de todas as filosofias construídas até então pelo fato de buscarem interpretar a realidade antes de resolver uma questão prévia: o que é o conhecimento? Fixando sua atenção naquilo que considerou como “razão pura”, Kant considerou que havia nela contradições e antinomias insuperáveis por qualquer lógica.
Em uma geração posterior, Hegel demonstrou que a contradição não era apenas uma dimensão essencial na consciência do sujeito do conhecimento, mas também na realidade objetiva. Para Hegel, a questão central da filosofia não era o conhecimento, e sim o ser. No entanto, reconheceu, como Kant, o sujeito humano como ativo e a sempre interferir na realidade, apontando o trabalho como processo pelo qual o ser humano produz a si mesmo. “Trabalho” é o conceito chave para compreendermos o que é a superação dialética, entendida por Hegel como simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de algo essencial que existe nela e sua elevação a um nível superior.
Para descrever este movimento, o filósofo utilizou a palavra alemã aufheben, um verbo que significa “suspender” em três sentidos diferentes: negar, manter e elevar. Este movimento fica menos confuso se observamos o que acontece, por exemplo, no trabalho de produzir pão: o trigo é triturado (negado em sua forma natural), transformado em pasta (na qual o trigo é mantido no que tem de essencial) e, depois de assado, torna-se comestível (sendo elevado em seu valor). Em uma conversa com Goethe, Hegel sintetizou a dialética como “o espírito de contradição organizado”. Ou seja, um processo de transformação que se dá a partir de um movimento de contradição organizado por uma lógica interna àquilo – ou àquelu – que se transforma.
Hegel subordina os movimentos da realidade material, no entanto, a um princípio nomeado por ele de Ideia Absoluta, sendo chamado, por isto, de idealista por um outro pensador que o sucede e traz novos significados para a dialética: o materialista Marx. Se a existência de Hegel transcorrera quase toda entre quatro paredes de uma biblioteca ou sala de aula, a de Marx, por outro lado, foi bastante atribulada: bem cedo ligou-se ao movimento socialista, lutou ao lado dos trabalhadories, viveu na pobreza e passou a maior parte de sua vida exilado. Tudo isso contribuiu para que tivesse uma concepção diferente daquela exposta por Hegel, com quem concordou sobre a importância do trabalho como mola impulsionadora de transformações, mas a quem criticou pela excessiva importância atribuída ao trabalho intelectual em relação ao físico e material.
Marx apontou como Hegel não havia sido capaz de analisar os problemas ligados à alienação do trabalho nas sociedades divididas em classes sociais (sobretudo na sociedade capitalista). De modo geral, marxistas consideram que para a superação da divisão da sociedade em classes e da alienação do trabalho é necessário levar em conta a realidade da luta de classes e as condições históricas de revoluções socialistas. Para a dialética marxista, qualquer objeto percebido ou criado pelo ser humano faz parte de um todo, e os problemas, portanto, estão sempre interligados, exigindo para a sua solução uma visão de conjunto, ainda que esta seja sempre provisória e incapaz de esgotar a realidade a que se refere. A visão de conjunto que permite a alguém descobrir a estrutura significativa de uma realidade é chamada de síntese, sempre repleta de contradições e mediações concretas. Tal estrutura significativa é chamada de totalidade.
Segundo Konder, a primeira geração de teóriques socialistas posterior à geração de Marx não conseguiu assimilar a dialética. Destacaram-se em sua revalorização, posteriormente, Rosa Luxemburgo, Lênin, Lukács, Gramsci e Walter Benjamin. Outro pensador dialético de grande importância foi Theodor Adorno, que segundo Schwarz buscou interpretar a forma artística “…como a historiografia inconsciente de nosso tempo” (SCHWARZ, 2012: 46). Tais intelectuais, no entanto, foram contrariados por uma tendência antidialética, cujo principal representante foi Josef Stálin, figura política que avançou muito no interior do movimento comunista após a morte de Lênin e acabou por exercer uma enorme influência sobre o movimento comunista mundial, ao menos por duas gerações.
Enfim, uma das condições fundamentais do método dialético é o espírito crítico e autocrítico, que nos incita a rever o passado à luz do que acontece no presente e questionar o presente à luz do futuro. Como disse certa vez Brecht: “O que é, exatamente por ser tal como é, não vai ficar tal como está”. A ênfase nas contradições e mudanças incomoda tanto beneficiáries de interesses constituídos quanto dependentes de hábitos e valores cristalizados; fustiga tanto o conservadorismo de conservadories quanto de revolucionáries. A dialética é, fundamentalmente, contestadora e foi enunciada por Marx na décima primeira tese sobre Feuerbach: “Os filósofos têm se limitado a interpretar o mundo; trata-se, no entanto, de transformá-lo”[4].
Como leitories dos parágrafos acima podem perceber, a história da dialética que encontramos nos livros mais difundidos é, como a história da filosofia ocidental em geral, contada a partir de um ponto de vista eurocêntrico e patriarcal que impede, ofusca ou apaga a contribuição intelectual tanto de pessoas não brancas e periféricas quanto de mulheres e gêneros dissidentes. Foi esta a história que pude encontrar desta vez dentro do prazo que tive, de todo modo, como nos lembra a cientista política Jodi Dean, há muites importantes pensadories dialétiques, além da já citada Rosa Luxemburgo, que são mulheres/gêneros dissidentes e/ou pessoas negras. Tais como: Angela Davis, Aleksandra Kollontai, Claudia Jones, Clara Zetkin, Sylvia Pankhurst, Dolores Ibárruri, Zhang Qinqiu, Marta Harnecker, Grace Lee Boggs, Leila Khaled, Luciana Castellina, Tamara Bunke, Carole Boyce Davies, Barbara Foley, Dayo F. Gore, Gerald Horne, Walter T. Howard, Mark Solomon, Mary Helen Washington, Yasuhiro Katagiri, Robin D. G. Kelley, Minkah Makalani, Erik S. McDuffie, Mark Naison, Harry Haywood e Hosea Hudson. Acrescentaria também brasileires como Sabrina Fernandes, Jones Manoel e Rita von Hunty, autories que têm realizado um importante trabalho nas plataformas digitais.
Como nos lembra Jodi Dean:
A visão de que o comunismo seria branco ou europeu omite lutas históricas e atuais – na Índia, na China, na Argélia, em Cuba, na Guiné-Bissau, na Palestina, em Angola, no Vietnã, na Coréia, na Indonésia, na África do Sul, no Nepal, na Colômbia, no Afeganistão, nas Filipinas, no Irã, nos Estados Unidos, no Iêmen, praticamente em todos os lugares. Ao longo das últimas décadas, um grande corpus de trabalho crucial documentou os elos inextricáveis entre as lutas comunistas, por libertação negra e anticoloniais, demonstrando a constituição mútua de uma política que se desemaranhou na esteira das derrotas da classe trabalhadora e da União Soviética (DEAN, 2020: 65).
O pensamento dialético é também muito presente na práxis psicanalítica, sobretudo na de Jacques Lacan. Vladimir Safatle, no livro A paixão do negativo – Lacan e a dialética (2006), busca demonstrar como a trajetória do psicanalista é sintoma dos impasses da tradição crítica do racionalismo moderno aberta pela dialética hegeliana. O autor afirma que a experiência intelectual lacaniana torna-se incompreensível se recusamos o encaminhamento dialético na reforma de certos conceitos maiores da teoria psicanalítica (SAFATLE, 2006: 34). E busca traçar tal encaminhamento a partir de uma convergência entre Lacan e Adorno:
Nas mãos dos dois, o sujeito deixa de ser uma entidade substancial que fundamenta os processos de autodeterminação, para transformar-se no locus da não identidade e da clivagem. Operação que ganha legibilidade se lembrarmos que a raiz hegeliana comum dos pensamentos de Lacan e de Adorno permitiu-lhes desenvolver uma articulação fundamental entre sujeito e negação que nos indica uma estratégia maior para sustentar a figura do sujeito na contemporaneidade (SAFATLE, 2006: 50).
O lugar onde encontraremos os operadores mais relevantes de convergência entre a clínica lacaniana e a dialética adorniana, segundo Safatle, será a dissociação entre formalização e conceitualização, na qual se inscreve certa “guinada estética” da dialética. Assim, o autor aponta a necessidade de enxergarmos a arte não apenas como uma estética, mas “como setor privilegiado da história da racionalidade de dos modos de racionalização” (SAFATLE, 2006: 62). Nesse sentido, julgo importante reconhecer aqui os limites de qualquer interpretação das obras de arte, as quais trazem à tona dimensões formais e modos de subjetivação resistentes à conceitualização. As formalizações operadas pela crítica estética dialética, ainda que reduzam tal fenda, jamais as suturam, pois a arte apresenta uma racionalidade própria. Assim, mais do que legitimar teorias a partir do rap que será analisado, insisto, interessa-me afirmá-lo como um campo de orientação para nossas subjetividades e relações políticas.
A tradição crítica dialética à brasileira que será apresentada a seguir tem entre seus expoentes mais destacados Roberto Schwarz, o qual esteve continuamente em diálogo, direta ou indiretamente, com a teoria de Adorno.
2 – Um método de crítica estética dialética no Brasil
Durante o curso Formas da canção popular ministrado pelo professor, pesquisador e compositor Walter Garcia no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), disciplina que acompanhei durante alguns anos, compreendi que a canção popular, para além do entretenimento artístico, exerce funções de crítica e transformação social. Integrei um grupo de estudos sobre canção, orientado por Garcia, no qual nos aprofundamos na tradição dialética da crítica literária brasileira. Atualmente, acompanho uma disciplina (Insurreição, soberania popular e violência revolucionária) e um espaço de estudos (Estilhaço) conduzidos por Vladimir Safatle nos quais tenho me aprofundado em autores como Hegel e estabelecido uma continuidade em relação aos estudos sobre dialética que desenvolvi com Garcia, o que provoca o diálogo com tais estudos em minha presente pesquisa. Traçarei, abaixo, alguns momentos de tal tradição crítica à brasileira:
A dialética da malandragem (1970), de Antonio Candido, foi, nas palavras de Roberto Schwarz, “o primeiro estudo literário propriamente dialético a ser produzido no Brasil” (1987: 1). Neste estudo, a reivindicação de que a produção da crítica brasileira não fosse a repetição de formas criadas na Europa, mas se desse de modo original, deixou de ser uma questão de princípio, afirma o autor, e tornou-se uma questão de fato: o fato da singularidade nacional, que exigia espírito crítico e poderia ser constatado na própria forma artística (SCHWARZ, 1987: 3).
Ao refutar a tese segundo a qual o romance Memórias de um sargento de milícias (1854) seria herdeiro do romance pícaro espanhol, Candido afirma que o herói da obra não é um pícaro, mas o primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira. E malandre[5], como e pícare, seria espécie de um gênero mais amplo de aventureire astuciose, comum a todos os folclores, compondo com tal dimensão arquetípica um estrato universalizador no romance. Mas haveria também um segundo estrato universalizador de cunho mais restrito: este sim o brasileiro. (CANDIDO, 1970: 8).
Candido aponta como causa da força das Memórias e de sua projeção no tempo este segundo estrato: o fato de seus elementos de composição basearem-se na intuição da dinâmica social do Brasil na primeira metade do século XIX. O que interessa para Candido é saber qual a função exercida pela realidade social historicamente localizada para constituir a estrutura da obra, o que se poderia chamar de formalização ou redução estrutural dos dados externos. No caso das Memórias, essa estrutura se daria pela dialética da ordem e da desordem, um princípio válido de generalização que Candido chamou de dialética da malandragem. Suprimindo a classe trabalhadora – es escravizades – e a classe dominante de seu enredo, o autor do romance, Manuel Antônio de Almeida, teria formalizado a estrutura da classe intermediária da sociedade, fissurada pela anomia traduzida na dança das personagens entre o lícito e o ilícito, em que todes acabavam circulando com uma naturalidade que lembrava “o modo de formação das famílias, dos prestígios, das fortunas, das reputações, no Brasil urbano da primeira metade do século XIX” (CANDIDO, 1970: 12).
Para Candido, as Memórias criam um universo sem culpabilidade, mostrando que os pares antitéticos não são estanques, mas reversíveis, e que fora da racionalização ideológica as antinomias convivem num curioso lusco-fusco. A ordem convencional a que obedecem os comportamentos, mas a que no fundo permanecem indiferentes as consciências, afirma o autor, “é aqui mais do que em qualquer outro lugar o policial na esquina, isto é, Vidigal, com sua sisudez, seus guardas, sua chibata e seu relativo fair-play” (CANDIDO, 1970: 10). Quando tal personagem aparece numa cena do romance envergando, por cima, a casaca do uniforme e, por baixo, calças domésticas e tamancos, estaria dada, para Candido, a imagem viva dos dois hemisférios misturados, assim como do fato de que o maior representante da ordem equipara-se a quaisquer des malandres que persegue (CANDIDO, 1970: 11). Essa estrutura em que os extremos se anulam e a moral dos fatos é tão equilibrada quanto as relações humanas expressaria, para Candido, a estrutura social brasileira que, diversamente da americana, incorporaria de fato o pluralismo racial à sua natureza mais íntima, ainda que certas “ficções ideológicas” postulassem o contrário (CANDIDO, 1970: 14).
Escrito na época da ditadura militar, o elogio à malandragem tentava fincar posição contra o espírito capitalista do Norte, como nos lembra Alfredo C. B. de Melo (2014: 411). No entanto, filia-se à visão de Gilberto Freyre, na crença em uma democracia racial inexistente que acaba por legitimar o capitalismo. Em entrevista de 2001 a Heloísa Ponte, Candido afirma, inclusive, que Casa-grande e senzala é o livro que gostaria de ter escrito (PONTES, 2001: 8-9).
Bastaria lembrar da gestão do regime escravista no Brasil à época das Memórias para assinalar a confusão de Candido entre a dinâmica de uma classe social específica e a de toda a sociedade brasileira – afinal, é a escravidão, com toda sua violência, que fornece as condições de possibilidade para essa “terra sem males definitivos ou irremediáveis, regida por uma encantadora neutralidade moral” (CANDIDO, 1970: 16). Mas temos também o argumento de Schwarz em Pressupostos, salvo engano, de “Dialética da Malandragem”: “A transformação de um modo de ser de classe em modo de ser nacional é a operação de base da ideologia” (SCHWARZ, 1987, 08). Com a particularidade, no caso do ensaio de Candido, de que não se trata de generalizar a ideologia da classe dominante, como é hábito, mas a de uma classe subalterna.
Afirma João Cezar, no ensaio Dialética da Marginalidade (2007), que, por fim, a violência substituiu a paciência na caracterização da cultura brasileira. Zé Pequeno, protagonista de Cidade de Deus (2002), filme dirigido por Fernando Meirelles, tomou o lugar de Zé do Burro, personagem de O pagador de promessas (1962). De um lado, o criminoso e sua brutalidade, aterrorizando a todos os espectadores; de outro, o camponês e sua simples fé, cativando o público. O autor refere-se à distância entre esses dois momentos históricos como a passagem da dialética da malandragem ao que chama de dialética da marginalidade, ou, mais precisamente, ao choque entre duas formas de compreender o país. De um lado, associado à dialética da marginalidade, propõe-se, afirma João, a crítica certeira da desigualdade social – o caso, entre tantos, do romance Cidade de Deus, da música dos Racionais MC’s, dos textos de Carolina de Jesus, de Ferréz, etc.; de outro, associado à dialética da malandragem, João identifica a crença no retorno à velha ordem da conciliação das diferenças – o caso, por exemplo, do filme Cidade de Deus. A violência é o denominador comum, mas a forma de abordá-la define movimentos opostos. O trânsito entre as esferas opostas da ordem e da desordem, característica da dialética da malandragem, representaria a metáfora da formação social comprometida com o “deixa disso”, o acordo, em lugar do conflito e da ruptura. Afinal, o desejo de ser cooptado também define e malandre, que aguarda ser finalmente absorvide pelo pólo convencionalmente positivo. Sua substituição parcial pela dialética da marginalidade e pela ordem conflituosa teria consequências profundas, visto que, no Brasil, o conflito aberto já não poderia mais ser mascarado sob a aparência do convívio carnavalizante.
Ainda que, na dialética da marginalidade, o conflito se torne explícito e haja um afastamento da retórica dos desvios de comportamento individuais, seu salto qualitativo, segundo João César, consistiria na afirmação de que a violência somente reforça a desigualdade social. De um lado, legitimaria a repressão policial e, de outro, estimularia as correntes mais reacionárias da sociedade civil. A alternativa, portanto, seria converter a violência cotidiana em força simbólica, por intermédio de uma produção cultural vista como modelo de organização comunitária, realizada peles própries excluídes e marginalizades. Para João César, em Capitães da areia, um dos primeiros livros a tratar da questão, Jorge Amado ainda podia acreditar na “utopia da luta de classes”, concluindo o romance com segurança: “Porque a revolução é uma pátria e uma família” (AMADO, 1937: 256). “Mas a revolução deixou a todos órfãos”, afirma João (2007: 59). A alternativa seria mesmo meramente simbólica.
Ora, um modelo de análise dialético que interpreta a luta de classes como uma utopia e generaliza a violência como algo que sempre reforça a desigualdade social parece ter se distanciado bastante do sentido histórico do conceito que utiliza. A luta de classes, para o pensamento marxiano que inspira essa linha de crítica dialética inaugurada por Candido, não é uma utopia, mas uma realidade bastante concreta. E a violência não pode ser generalizada como a produzir sempre tal ou qual consequência, pois a única resposta dialética é: depende. Afinal, de qual violência estamos falando? Não podemos afirmar, por exemplo, que a violência revolucionária que originou a Revolução Cubana, ainda que tenhamos críticas a ela, tenha provocado o aumento da desigualdade social em Cuba.
Portanto, para dar conta de interpretar certa estrutura cancional e psicossocial em que, não apenas o conflito não pode ser mascarado sob a aparência do convívio carnavalizante, mas também perspectivas revolucionárias são enunciadas, precisamos de categorias capazes de abranger outras formas de abordar a violência. Talvez esteja em tempo de a contradição entre dialética da malandragem e dialética da marginalidade levar a uma nova síntese – a qual na verdade não é nova, apenas não nomeada, ainda, em nossa crítica estética dialética. A esta síntese chamarei de dialética da camaradagem, termo que será melhor explicado na conclusão deste artigo.
No momento em que escrevo, o Brasil já ultrapassa a marca de 620.000 mortes causadas pela pandemia de Covid-19, tragédia potencializada por uma política deliberada de sabotagem ao enfrentamento da doença por parte do governo do atual presidente da república Jair Bolsonaro. Em atos recentes pró-governo, o descaso em relação à tragédia estava explícito no silenciamento: não se usava máscaras nem se falava de pandemia, apenas em velhas pautas da direita como a volta da ditadura militar. Bolsonaro conquistou muites seguidories com um discurso misógino, homofóbico, racista, eugenista e autoritário, ecoando sentimentos de parte da população que, até então, temia expressá-los.
Como afirma Santos (2001: 186), em nosso tempo, o perigo é a ascensão do fascismo como regime social. Ao contrário do fascismo político, o fascismo social é pluralista, coexiste facilmente com o estado democrático e seu espaço-tempo privilegiado, ao invés de ser nacional, é local e global. De fato, o fascismo social, com suas tonalidades totalitárias, tem sido notado não somente na sociedade brasileira, mas também em diferentes partes do globo. Urge, portanto, investigar formas de enfrentá-lo e, como afirma MC Axant em Primavera fascista, “o rap é arma” e pode apontar caminhos.
3 – A dialética na canção: uma análise de Primavera Fascista
Como vimos acima, para encaminhar uma solução para os problemas de acordo com a dialética marxiana, o ser humano precisa ter uma visão de conjunto, pois a cada ação se defronta, inevitavelmente, com problemas interligados. Para analisar o videoclipe, portanto, a partir de tal tradição, buscarei contemplar, ainda que sem profundidade em função dos limites deste ensaio, aspectos de diversas dimensões – histórica, sociológica, musical, performática, cancional, poética, visual e discursiva – a fim de melhor perceber o todo, as interligações entre suas partes e a estrutura homóloga entre obra e dinâmicas psicossociais.
O rap Primavera fascista, criado peles capixabas Tibery (produtor), Bocaum, Leoni, Adikto, Axant, Mary Jane, VK Mac e Dudu (MCs), foi lançado pelo coletivo Setor Proibido em formato videoclipe no YouTube dia 23/10/2018, apenas 5 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais disputadas por Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Com a iminente vitória do candidato da extrema-direita, a canção insere-se no contexto de luta pela democracia encabeçada pelo movimento hip hop, que lançou o manifesto O rap tem lado? Rap pela democracia (2018), também no YouTube, no qual conhecides rappers e DJs brasileires relembraram as raízes do movimento, suas principais conquistas e sua posição na defesa da democracia: “O hip hop sempre teve um lado”.
Criticando fortemente o candidato conservador, suas ideias e suas atitudes, a canção Primavera Fascista, aclamada pela comunidade hip hop, recebeu 100.000 visualizações apenas nos dois primeiros dias após seu lançamento e alcançou mais de 4 milhões de visualizações nos meses seguintes. Fez parte de um esforço de mobilização por uma contra-narrativa aos discursos da extrema direita, como tentativa de dissuadir eleitories indecises a votar naquele candidato. Em uma entrevista para o website Scream & Yell (2018), es MCsdeclaram ter construído o rap a partir de respostas rimadas a comentários que o (até então) deputado havia emitido em diferentes momentos de sua carreira política.
Samplers com falas de Bolsonaro estão presentes ao longo de todo o videoclipe, intercalados com as rimas des 7 MCs, que respondem ao teor de cada comentário, logo na sequência de cada um. A estrutura de diálogo ou debate que se estabelece na canção entre as falas fascistas de Bolsonaro e as respostas críticas des MCs já nos remete ao significado que o termo dialética assumiu à época de seu surgimento, na Grécia Antiga (a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir os conceitos envolvidos na discussão). A transmissão de cultura por meio da oralidade e musicalidade por parte da comunidade hip hop está historicamente mais associada à tradição dos griots do que à cultura ocidental, mas não deixa de herdar, conscientemente ou não, a práxis dialética por meio da influência de guerrilheiros marxistas como Carlos Marighella e conceitos marxianos como “luta de classe”, utilizados na letra. Como nos mostram os quilombos formados no Brasil, pessoas negras, brancas, indígenas e outras identidades raciais, assim como homens, mulheres e gêneros dissidentes, podem estar no mesmo lado da luta por rupturas nas estruturas sociais, ainda que estas es afetem de maneiras diferentes. Em relação a isso, vale notar que no coletivo de Setor Proibido encontramos, aparentemente[6], a maioria de homens negros, mas também dois homens brancos e uma mulher negra, ou seja, diferentes identidades, ainda que predomine a negra, periférica e masculina.
Cada fala-resposta no videoclipe de Primavera fascista se refere a algum tema social sensível e, segundo Marcos Morgado (2020: 2027), o conjunto dos temas segue a seguinte ordem: a) ditadura, autoritarismo, violência e fascismo; b) homofobia; c) racismo; d) misoginia; e) autoritarismo. As sequências em que es MCs respondem às falas de Bolsonaro evocam os conhecidos 5 elementos do hip hop: (1) e DJ, e qual escutamos por meio de um sintetizador que faz variações musicais a partir da tonalidade de Gm e do som intenso de um contrabaixo ressoado por batidas de bumbo; (2) o grafite, que vemos nos traços das roupas des artistas e no muro diante do qual estão, em que vemos grafitadas a frase “Escola de rima” e a imagem de uma pessoa negra; (3) o break dance, evocado por meio de performances repletas de gestuais físicos ritmados; (4) e MC, função realizada na canção peles 7 rappers, es quais rimam cada ume por vez respondendo a diferentes trechos de discursos do Bolsonaro; (5) o conhecimento, referenciado de diversas maneiras: pela interlocução com um professor numa sala de aula, pela frase “Escola de rima” grafitada no muro e pelo teor crítico de toda a canção.
Nada, absolutamente nada. Só vai mudar infelizmente quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, né? E fazendo o trabalho que o regime ainda não fez! Matando uns trinta mil. Começando com o FHC. Vamo deixar pra fora não! Matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Jair Bolsonaro emitiu tais declarações, que abrem o rap Primavera Fascista, em dois distintos momentos: no seu terceiro mandato, em maio de 1999, durante uma entrevista, e em seu sétimo e último mandato, em abril de 2016, na sessão de impeachment de Dilma Rousseff, antes de voltar “sim”, prestando homenagem ao Coronel Ustra, oficial do DOI (Destacamentos de Operação Interna) acusado de prender e torturar mais de 500 brasileires durante o regime militar, inclusive a presidenta impeachmada, a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Importante lembrar que o primeiro pedido de impeachment contra Dilma Rousseff se deu três meses após a publicação do relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que investigou as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 05 de outubro de 1988, no Brasil e no exterior, praticadas por agentes publiques e pessoas a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado brasileiro.
Ao escolher essas falas de Bolsonaro para abrir o videoclipe, o produtor Tibery e es 7 MCs enfatizam o caráter ditatorial e autoritário do discurso do então candidato, que propõe fazer “o trabalho que o regime ainda não fez! Matando uns trinta mil” e homenageia um torturador, expressando sua simpatia e filiação ao regime ditatorial. A cena que acompanha a veiculação de suas falas, no clipe, mostra-nos personagens que podemos ler como um casal heterossexual de pessoas brancas da classe média assistindo ao discurso na TV, enquanto comem pipoca sentados no sofá de uma sala. O casal parece representar aquelus a quem es MCs se dirigem: potenciais eleitories de Bolsonaro, em um de seus habitats: a família nuclear burguesa. Tais sequências reaparecem ao longo do clipe toda vez que declarações do político são sampleadas, seguidas de imagens nas quais es MCs as respondem em 3 diferentes cenas: (1) diante de um muro grafitado, cada ume por vez, na frente des demais, dirigindo-se a nós espectadories/ouvintes; (2) numa sala de aula, cada rapper por vez, na frente des demais, dirigindo-se a um professor branco; (3) nessa mesma sala de aula, cada ume por vez, sozinhos, dirigindo-se a nós espectadories/ouvintes.
Em relação à dimensão propriamente cancional do rap, nos termos em que a formulou Marcelo Segreto a partir de conceitos da semiótica da canção, teoria desenvolvida por Luiz Tatit, podemos identificar em Primavera Fascista o recurso da figurativização, “no qual a fala coloquial aparece no canto de forma mais explícita” (SEGRETO, 2015: 01), e que “consiste numa elaboração entoativa da melodia aproximando o canto da coloquialidade da língua oral, como se oferecesse ao ouvinte momentos reais de enunciação” (SEGRETO, 2015: 07). Tatit observa que a especificidade da linguagem cancional decorre da relação entre a melodia e a letra, o que considera ser o seu principal elemento gerador de sentido, e da relação da canção com a fala, identificada com o processo da figurativização. Este procedimento pode ser percebido com nitidez, por exemplo, nos versos abaixo:
Vai acabar com a regalia?
Mano, que que você tá falando?
Sua marra é de ditador?
Tá mais pra mamador,
Mamando em nossa teta
Há mais de 28 anos
(Leoni)
O desprestígio em relação ao valor estético do rap por parte de certes músiques, pesquisadories e professories deve-se a fatores sociais – preconceito contra população pobre, racismo etc. – mas também, como nos lembra Marcelo Segreto (2015: 133), à ignorância em relação ao processo criativo de compositories de canções: a formação de unidades entoativas plausíveis a partir da combinação entre uma frase verbal e uma frase musical. A compreensão da especificidade da linguagem cancional é de extrema importância para o combate ao preconceito, ainda vigente na sociedade brasileira, contra formas da canção que não operam a partir de um referencial centrado em questões musicais.
A letra de Primavera Fascista é “papo reto” e, como de praxe nas canções em que predomina o processo de figurativização, o enunciado está em primeiro plano. O que se diz se torna mais forte pela coerência com a forma pela qual se diz e a canção utiliza diversos recursos poéticos, como métrica, rima, aliteração, assonância, entre outros. Tais recursos são evocados, por exemplo, no verso em que Bocaum afirma que o MC é “da lama lapidado, pique diamante de Serra Leoa”.
O discurso poeticamente lapidado transmitido pelo rap Primavera Fascista é permeado pela estética/ética do revide. Tal estética se percebe pela atmosfera densa gerada pelas batidas pesadas do acompanhamento rítmico, pela segunda voz num registro muito grave com timbre ameaçador que acompanha as rimas do MC Bocaum, pelo ritmo acelerado do rap, pelas expressões corporais e faciais des artistas, entre outros elementos. A dimensão ética mencionada encontramos no discurso enunciado, por exemplo, pelos seguintes versos:
Eu sou a guerra civil
Não temo sua ditadura
E se alguém tem que morrer
Então que morra você
(Bocaum)
Não diga que não avisei, esse falso messias não é salvação
Não diga que não avisei, quando o cenário for de revolução
Cês seguem apoiando esse capitão do mato
Pela cultura é vida ou morte me chame Zumbi
(Axant)
Tempos de guerra
Eles, Mussolini, nós, Marighella
Resistência nós somos Teresa de Benguela
(Mary Jane)
Se a nossa vida depende dele mandar ou não
Entre a escravidão e a morte, eu escolho ser morto
(Dudu)
Ao entoar “Eu sou a guerra civil”, Bocaum nos remete à fala em que Bolsonaro defende uma guerra civil, mas também à situação de extrema violência em que vivem pessoas marginalizadas no Brasil. Como nos lembra Maria Rita Khel (KHEL, 2019: 6-7), a polícia brasileira é a única na América Latina que comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do que durante o período da ditadura militar. Tal violência policial ligada ao racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira é denunciada nos seguintes versos:
A viatura me enquadra porque eu sou suspeito
Tortura é o que fazem comigo dentro dos becos
A essa altura é o diabo no divã
4 horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto
(Leoni)
Os versos transcritos acima retratam uma realidade na qual há, de fato, uma guerra civil que atinge a vida da população preta e/ou periférica. Na sequência, ao entoar que a minoria que ele é “não faz parte dos maus”, Bocaum aponta para o caráter estrutural da violência e sua relação com o desejo de revide: não seria uma escolha moral relacionada a ser “mau”, mas a condições históricas dadas. Nesta mesma linha, a canção referencia personagens históricas ligadas à violência revolucionária. Zumbi e Teresa de Benguela, por exemplo, evocades pelos versos de Axant e Mary Jane, respectivamente, foram importantes líderes de quilombos: Zumbi, do Quilombo dos Palmares; Teresa de Benguela, do Quilombo do Piolho.
No verso anterior ao que evoca a resistência de Benguela, Mary Jane cita Mariguella, que além de estar historicamente ligado à resistência dos quilombos – por ser neto de pessoas negras escravizadas trazidas do Sudão – filia-se politicamente ao comunismo marxista-leninista. A influência do marxismo em Primavera Fascista revela-se não apenas na reverência a figuras históricas como Mariguella, mas também no uso de conceitos como “luta de classe”, como no verso “Luta de classe manipula essas peça lego” (Axant), e no discurso que evoca o revide frente ao cenário fascista contemporâneo e às estruturas coloniais que regem a sociedade brasileira.
Como afirma Pedro de Araújo Fernandes (2019: 05), Marx aborda a violência revolucionária não como a base do poder político na nova sociedade, mas como uma tática necessária. Na grande obra de Marx, O Capital, ele faz talvez sua mais célebre referência em relação ao tema: “A violência é a parteira de toda sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova” (Marx, 2011). O que Fernandes destaca em seu artigo é que o reconhecimento de seu papel da violência na história não é o mesmo que defendê-la, a priori, como um instrumento revolucionário. Ela pode ser, em alguns momentos, uma armadilha reacionária e, em outros, uma necessidade revolucionária. Depende.
A questão da violência é central na obra de Fanon, que em Os Condenados da Terra (1979) retira sua teorização do campo da moral para formulá-la no âmbito da crítica ao colonialismo e da práxis de libertação. Para o martinicano, a violência é sempre vista a partir de um duplo. De um lado, a colonial; de outro, a da pessoa colonizada, alvo de desejos e neuroses de colonizadories. Em nome da civilização, o colonialismo torna estéril qualquer tipo de comunicação baseada no reconhecimento mútuo e uma violência universal acaba por se tornar a única linguagem da colonização. Quando, em Primavera Fascista, Dudu entoa os versos “Se a nossa vida depende dele mandar ou não / Entre a escravidão e a morte, eu escolho ser morto”, aponta sua filiação ao discurso de luta por liberdade que enfrenta o risco à própria vida, aproximando-se da ética revolucionária de quilombolas e marxistas.
A temática do revide à violência de um Estado fascista presente no discurso do rap remete-me ao texto Do uso da violência contra o Estado ilegal, de Safatle (2010). O autor nos lembra como o totalitarismo é fundado nesta violência muito mais brutal do que a da eliminação física: a da eliminação simbólica, do desaparecimento do nome. E afirma que o Estado deixa de ter qualquer legitimidade quando mata pela segunda vez aquelus que foram mortes fisicamente (questão já presente na tragédia Antígona, de Sófocles, como nos lembra o autor). Tal tragédia tem se repetido no Brasil, no século XX em relação às pessoas mortas pelo regime militar e, agora no XXI, pelo genocídio promovido pelo governo Bolsonaro pela falta de medidas sanitárias após o agravamento da pandemia de Covid-19 acompanhada pela manipulação dos dados sobre o número de mortes. Sobre o primeiro caso, cabe lembrar que uma “amnésia sistemática em relação a crimes de um Estado ilegal” (SAFATLE, 2010: 09) impera, já que o Brasil foi o único país da América Latina que “perdoou” os militares sem exigir da parte deles nem reconhecimento dos crimes cometidos nem pedido de perdão, devido a uma anistia ampla, geral e irrestrita articulada pelos militares antes de deixar o poder; sobre o segundo, vale citar uma frase dita há cerca de 60 anos por Che Guevara: “Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la”: (a frase original é de Edmund Burke).
Safatle argumenta em seu artigo que a tese, já evocada diversas vezes nos meios de comunicação de massa em relação à Lei de Anistia, segundo a qual o esquecimento dos “excessos” do passado seria o preço doloroso pago para garantir a estabilidade democrática, longe de ser uma defesa realista e desapaixonada da democracia possível, é sintoma de uma profunda tendência totalitária da qual nossa sociedade nunca conseguiu se livrar.
Ao utilizar tal argumento, trata-se de tentar passar a ideia de que toda violência se equivale, de que não há diferença entre violência e contraviolência ou, ainda, e aí em um claro revisionismo histórico delirante, que a violência militar foi um golpe preventivo contra um Estado comunista que estava sendo posto em marcha com a complacência do governo Goulart. (…) devemos lembrar que a tradição política liberal (note-se bem, a tradição liberal, e não apenas revolucionária de esquerda) admite, ao menos desde John Locke, o direito que todo cidadão tem de se contrapor ao tirano e às estruturas de seu poder, de lutar de todas as formas contra aquele que usurpa o governo e impõe um Estado de terror, de censura, de suspensão das garantias de integridade social. Isto demonstra como, mesmo a partir do ponto de vista dos princípios do liberalismo político, o argumento que visa retirar a legitimidade da violência contra o aparato repressivo da ditadura militar brasileira é inaceitável (SAFATLE, 2010, 11-14)
A omissão em relação à violência e à tortura praticada pelo Estado produz, segundo Maria Rita Kehl (2019), sua naturalização como grave sintoma social no Brasil. A ideia de sintoma social é controversa na psicanálise, nos lembra a autora, pois a sociedade não pode ser analisada do mesmo modo que um sujeito; por outro lado, o sintoma social não se expressa de outra forma senão por meio de sujeitos que sofrem e manifestam, singularmente ou em grupo, os efeitos do desconhecimento da causa de seu sofrimento. Lacan, na conferência Função e campo da palavra e da linguagem em psicanálise (1953), observa que a originalidade do método psicanalítico está em abordar não o indivíduo, mas o “campo da realidade transindividual do sujeito”. Afinal, o sujeito não é um indivíduo; é dividido desde sua origem, a partir de seu pertencimento a um campo simbólico cuja sustentação é necessariamente coletiva. Para o sujeito ou para a sociedade, cura implica memória e elaboração.
Quando o rap Primavera Fascista foi composto, ainda não se falava em Covid-19 e nem imaginávamos que ultrapassaríamos a marca de 620.000 pessoas mortas durante o governo Bolsonaro, mas es rappers já reivindicavam a memória das mortes pela violência de Estado. É evocada a memória do passado e de diversas pessoas “mortas em luta” (a ambiguidade do termo aqui é proposital: mortas durante a luta mas também mortas que seguem em luta por meio da força simbólica que mobilizam), como Marielle, Mestre Moa, Zumbi, Marighella, Teresa de Benguela e Jesus:
Sou Marielle e Mestre Moa
…
Eu também luto pro passado e pros meus ancestrais
…
Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus
(Bocaum)
A pele preta e o passado cê não enterra, porra
(Axant)
Meus manos morrendo e vocês não vão fazer nada até quando, hein?
Vão ignorar nós até quando, hein?
Vê o sangue de quem tá jorrando
É, não surpreende nem um pouco nenhum de vocês tá ligando
(Vk)
Se Jesus voltasse, cês matava ele de novo
E chamavam de comunista por pensar demais no povo
(Dudu)
Conclusão
Na estrutura composicional do rap Primavera fascista,não encontramos a lógica conciliatória, como na dialética da malandragem, e tampouco a da ruptura restrita ao campo simbólico, como na dialética da marginalidade. Encontramos uma outra forma de abordar a violência, na qual não apenas os conflitos são expostos como estruturais e elaborados por meio de uma produção cultural coletiva em que colaboram diferentes identidades, como também é enunciada uma perspectiva para a superação simbólica e concreta das violências estruturais: a da luta, na qual o revide, a violência contra a violência ou a violência revolucionária tem um papel histórico.
Tal estrutura é homóloga à de certa dinâmica psicossocial encontrada na sociedade brasileira ao menos desde a existência dos quilombos à época do sistema escravagista, em que o horizonte político não é o da ruptura apenas simbólica, mas também material, e o da transformação estrutural da sociedade. No caso de algumas referências formalizadas pela canção, como as que envolvem o guerrilheiro Marighella, encontramos material de viés marxista, o qual aponta, conscientemente ou não, para o horizonte político comum de uma revolução socialista a ser construída a partir de relações políticas coletivas. Sendo assim, parece-me adequado nomear tal estrutura, comum entre o rap e certas dinâmicas psicossociais da sociedade brasileira, no que se refere a determinada forma de abordar violências estruturais e relações políticas, de dialética da camaradagem.
No livro Camarada (2021), a cientista política Jodi Dean faz uma arqueologia da figura de camarada, mostrando que há muito supera e transcende a figura do homem branco europeu, já que o significante reúne diversas formas de vida e identidades caracterizadas por um objetivo político comum: o de “derrubar o capitalismo racial patriarcal e construir uma sociedade na qual a produção seja baseada em atender às necessidades humanas” (DEAN, 2020: 13). Como observa Christian Dunker, em texto de apresentação do livro, para a relação de camaradagem, “a diferença entre ser igual e desejar na mesma direção torna-se, assim, crucial” (DEAN, 2021, Orelha do livro). A etimologia de “camarada” é ilustrativa, afirma Dean:
Ela remonta ao termo latino camera,que designa um quarto ou abóbada: uma abóbada é uma estrutura repetível que demarca um espaço de cobertura com apoios; um cômodo que estabelece uma divisão entre aqueles que se encontram dentro e aqueles que se encontram fora dele. Um cômodo é indiferente àqueles que se encontram dentro dele; ele os cobre, contém e abriga independentemente de quem eles sejam. (DEAN, 2020: 13)
Parece seguir esta mesma configuração a relação política existente entre es artistas do rap Primavera Fascista, para es quais o horizonte político de luta contra as diversas opressões da sociedade brasileira, ampliadas por discursos e práticas bolsonaristas, assume o primeiro plano (ainda que as identidades raciais, de gênero e de classe entre participantes do coletivo também mereçam destaque na obra, já que racismo, machismo e capitalismo se dão, em nossa sociedade, de maneira indissociável).
Predomina, tanto na canção quanto no universo do hip hop, a cor negra, o gênero masculino e a classe social periférica, o que nos leva a refletir sobre a seguinte questão: entre os três marcadores da diferença fundamentais na performance do rap – gênero, racialidade e classe social – apenas um marcador da diferença não é associado a uma categoria que podemos considerar socialmente “oprimida” ou “violentada” em relação à outra. Se “negre” e “periférique” são termos associados a locais desprivilegiados na sociedade em relação a categorias como “branque” e “de elite”; o termo “homem” não é associado a um local desprivilegiado socialmente em relação à “mulher” ou a gêneros dissidentes. A aparente[7] predominância de homens cis no rap Primavera Fascista, em cujo grupo de 8 artistas há apenas 1 mulher, parece-me, portanto, uma contradição em relação à crítica que a canção faz às opressões estruturais. Mas o horizonte político comum não é mais importante que a identidade?, perguntarão es leitories. Sim, mas, em uma sociedade com população feminina maior que masculina, haver apenas 1 mulher num grupo de 8 pessoas, talvez não expresse certo identitarismo o qual, por ser masculino, está associado à opressão de gênero vigente em nossa sociedade[8]?. Tal contradição em Primavera Fascista, no entanto, não invalida a qualidade da obra, e tampouco aponta para uma falha de caráter individual por parte des artistas em particular; como tem sido dito ao longo deste ensaio, contradições dizem respeito sobretudo a estruturas, são critério de realidade e de transformação. Como escutei o compositor Emicida dizer em uma entrevista que não consegui (e tampouco ele) localizar, “é preciso descriminalizar a contradição”.
A respeito das três diferentes estruturas dialéticas que abordo neste ensaio, buscarei agora apresentá-las de uma maneira mais formalizada: na dialética da malandragem, e malandre circula entre as esferas da ordem e da desordem esperando ser absorvide pela ordem; na dialética da marginalidade, e marginal rompe simbolicamente com a esfera da ordem e circula na esfera da desordem transformando-a em força simbólica; e na dialética da camaradagem, e camarada circula tanto na esfera da ordem quanto na da desordem, como e malandre, mas, diferentemente destu, estabelece relações políticas para transformar estruturalmente a ordem e não para ser absorvido por ela.
Há uma diferença na lógica da nomeação entre as duas primeiras e a última: enquanto a malandragem e a marginalidade dizem respeito a relações políticas estabelecidas entre diferentes classes sociais – o que, vale lembrar, no Brasil é indissociável de diferenças sociais de gênero e de raça – a camaradagem não se dá necessariamente entre pessoas de identidades de classes distintas, mas tampouco necessariamente entre pessoas da mesma identidade de classe. Como afirma Jodi Dean, “Marx e Engels vincularam o socialismo não à identidade de classe, mas à luta de classes” (2021: 15). O próprio Engels foi um empresário industrial que poderia ter sua identidade associada à burguesia. No entanto, sabemos bem seu horizonte político em relação à luta de classes. Do mesmo modo, com o nome dialética da camaradagem, refiro-me a relações políticas criadas preferencialmente em torno de um horizonte político comum, e não em torno de identidades, quaisquer que sejam.
A diferença na lógica da nomeação pode gerar um mal entendido e fazer parecer que na dialética da camaradagem há uma maior aproximação ou colaboração entre diferentes classes sociais, em relação às dialéticas anteriores. De certo modo, há mesmo, à medida que a identidade de classe, ou qualquer outra, não é impeditivo para a relação de camaradagem. Por outro lado, torna-se mais evidente e consequente o conflito entre aquelus que se encontram em diferentes lados da luta de classes. Permanece na lógica da nomeação, nos três casos apresentados, a ênfase na relação política estabelecida a partir de conflitos e violências. Porém, enquanto e malandre não se estabiliza em um lado na luta de classes e e marginal localiza-se na batalha simbólica da luta a partir de uma identidade marginalizada, e camarada situa-se na disputa simbólica – e material – da luta de classes a partir não de qualquer critério identitário, mas a partir do critério de compartilhar ou não um horizonte político comum.
Concluo este ensaio, portanto, com a percepção de que Ricardo Rabelo, ou seu eu lírico, está coberto de razão: a arte faz, de fato, parte da revolução, sobretudo quando apresenta em sua estrutura composicional a mesma lógica que encontramos em dinâmicas psicossociais revolucionárias, nas quais o horizonte político comum, de ruptura nas estruturas sociais, está em primeiro plano. Como afirma Roberto Schwarz, “…não se trata de opor estético a social. Pelo contrário, pois a forma é considerada como síntese profunda do movimento histórico” (SCHWARZ, 1979: 3).
Referências bibliográficas:
CANDIDO, Antonio. Dialética da Malandragem. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n°8. São Paulo: USP, 1970, pp. 67-89.
DEAN, Jodi. Camarada. São Paulo: Boitempo, 2021 (Trabalho original publicado em 2019).
FANON. F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008 (Trabalho original publicado em 1952).
FERNANDES, P. As. A violência Revolucionária em Marx e Engels. In: Marx e o Marxismo. Rio de Janeiro: Anais do Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2019, 2019.
JUNIOR, Nelson da Silva. Fernando Pessoa e Freud – diálogos inquietantes. São Paulo: Editora Edgar Blucher Ltda, 2019.
KEHL, Maria Rita. Tortura e sintoma social. In: SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson. (Org). O que resta da ditadura. São Paulo: Boitempo, 2019 (Trabalho original publicado em 2010).
KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo: Editora Brasiliense, 2017 (Trabalho original publicado em 1981).
LACAN, Jacques. Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis (1953). In: SEGÓVIA, Tomás (trad.). Escritos. Madrid/México: Siglo Veintiuno, 1994.
MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Boitempo, 2011 (Trabalho original publicado em 1867).
MELO, Alfredo C. B. Pressupostos, salvo engano, de uma divergência silenciosa: Antonio Candido, Roberto Schwarz e a modernidade brasileira. In: Alea. Rio de Janeiro: Vol 16/02, p. 403-420, 2014.
MORGADO, Marcos. Mediação da resistência ao fascismo contemporâneo no youtube: evocando dissidências no rap brasileiro. Trab. Ling. Aplic. Campinas, n (59. 3): 2017- 2049, set./dez. 2020.
MOURA, C. Rebeliões da Senzala. São Paulo: Anita Garibaldi, 2014. Trabalho original de 1959.
RIBEIRO, Djamila. Lugar de fala. São Paulo: Editora Jandaíra, 2019 (Trabalho original publicado em 2017).
ROCHA, J. C. de Castro. Dialética da marginalidade – caracterização da cultura brasileira contemporânea. In: Letras nº 32 – Ética e Cordialidade. Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2017 (Trabalho original publicado em 2004).
PONTES, Heloisa. Entrevista com Antonio Candido. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 16, n. 47, 2001.
SAFATLE, V. A paixão do negativo: Lacan e a dialética [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2006. ISBN 978-85-393-0333-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.
SAFATLE, Vladimir. Do uso da violência contra o Estado ilegal. São Paulo: Boitempo, 2010.
SCHUCMAN, L. V. Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana. In: Psicologia & Sociedade. 26(1), 83-94, 2014.
SCHWARZ, R. Pressupostos, salvo engano, de “Dialética da Malandragem”. In:SCHWARZ, R. Que horas são? – ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
Schwarz, R. Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo, SP: Companhia das Letra, 2012.
SEGRETO, Marcelo. A linguagem cancional do rap. Dissertação de mestrado. São Paulo: FFLCH – USP, 2015.
SOUZA, Priscilla. Colonialismo e os efeitos do sofrimento sociopolítico: aquilombamento como estratégia de organização. In: LANARI, Laura(org); KWAME, Yonatan (org). Saúde mental, relações raciais e covid-19. São Paulo, Laura Lanari: 2020.
Referências videográficas
PROIBIDO, Setor. “Primavera fascista”. Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pi2WodtwW3k&list=RDpi2WodtwW3k&start_radio=1. Acesso em: 28 de out. 2021.
DEMOCRACIA, Rap pela. “O rap tem lado? Rap pela democracia”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uvOH6P0YNWE. Acesso em: 28 de out. 2021.
YELL, Scream &. “Entrevista Bolsonaro é um retrocesso, diz Setor Coletivo”. Disponível em: http://screamyell.com.br/site/2018/10/26/entrevista-bolsonaro-e-um-retrocesso-diz-setor- coletivo/. Acesso em: 28 de out. 2021.
Links de matérias em jornais ou revistas:
FREITAS. Samantha. “Mais de 590 mil mortes, consciência ética e lutas contra o bolsonarismo em São Paulo”. Disponível em: https://diplomatique.org.br/mais-590-mil-mortes-consciencia-etica-e-lutas-contra-o-bolsonarismo-em-sao-paulo/. Acesso em 20 de out. 2021.
RIBEIRO, Djamila. “Djamila Ribeiro: todo mundo tem lugar de fala; não é desculpa para não agir”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/07/01/todo-mundo-tem-lugar-de-fala-afirma-djamila-ribeiro.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 06 de dez. 2021.
[1] O presente ensaio foi apresentado como requisito parcial para a conclusão da pós-graduação lato sensu Canção Popular: criação, produção musical e performance, sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Segreto.
[2] Um guia para linguagem neutra (PT-BR) pode ser acessado pelo seguinte link: https://medium.com/guia-para-linguagem-neutra-pt-br/guia-para-linguagem-neutra-pt-br-f6d88311f92b. Agradeço ao professor Jupi77er por tal referência, com quem fiz um workhop, o qual recomendo. Para quem quiser mais informações, seu contato de instagram é @jupi77er e seu e-mail é jupi77er@gmail.com
[3] Considero que aqui seria inapropriado utilizar a linguagem neutra, pois na Grécia Antiga apenas homens livres eram considerados cidadãos e tinham acesso à filosofia cuja história é referenciada neste tópico.
[4] Citações literais não serão adaptadas para linguagem neutra, para que nenhum defunto se revire no túmulo, mesmo que sem razão.
[5] Não pude verificar o gênero de tantas personagens ao longo de tão vasta tradição literária, pelo o quê julguei mais seguro me referir a elus com a linguagem neutra.
[6] Não posso afirmar com convicção o gênero des artistas sem antes escutá-les a respeito e saber como se identificam. Busquei entrar em contato com es artistas do coletivo, mas não houve resposta até o prazo de entrega deste ensaio para a FASM.
[7] “Aparente”, pois, vale repetir, não podemos saber a identidade de gênero des artistas do coletivo antes de escutá-les a respeito.
[8] Se fosse o contrário, apenas 1 homem cis em um grupo de 8 pessoas, poderíamos interpretar tal composição pela ética do revide: uma forma de combate à opressão de gênero que se utiliza do identitarismo como tática, assim como, em lutas revolucionárias, a violência também pode ser utilizada como tática necessária para o revide, ainda que reproduza certas contradições que busca combater.